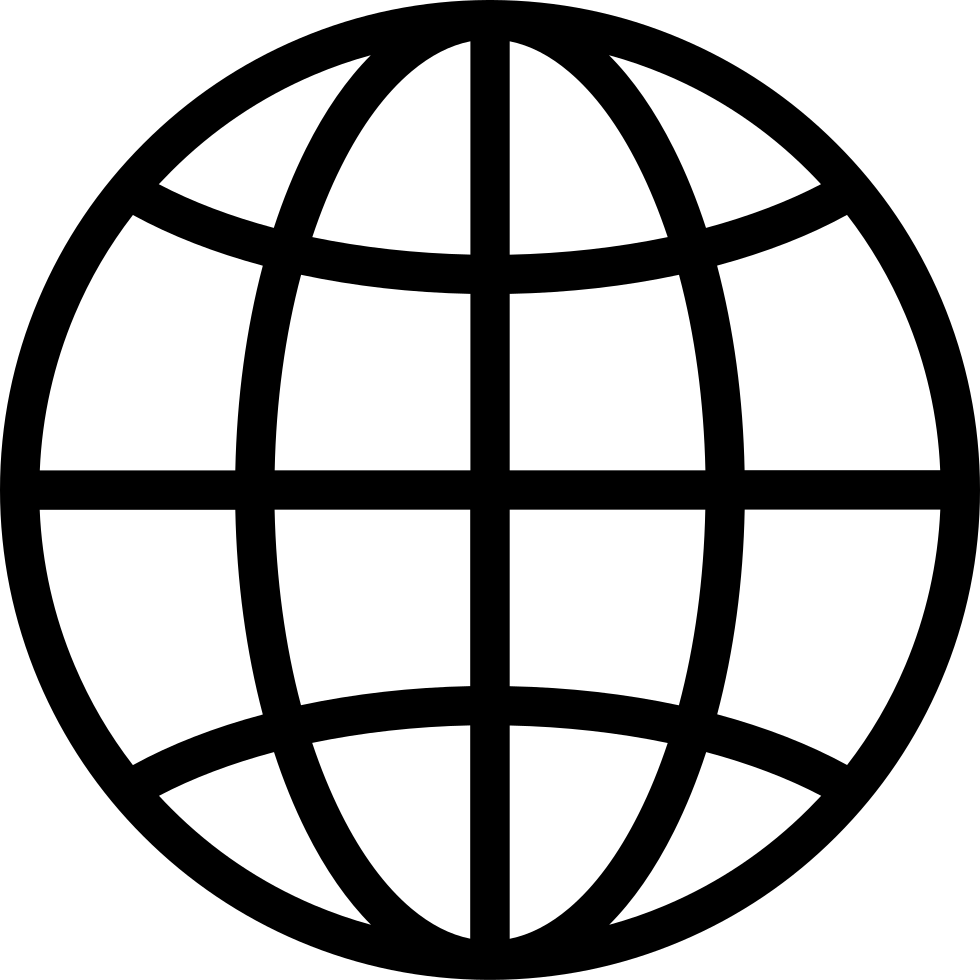Como chegamos até aqui?
Manage episode 413531554 series 2830860
Nota do editor: Este é um Tecnocracia diferente, gravado ao vivo pelo Guilherme Felitti durante a Python Brasil, evento que rolou em Manaus (AM) no último sábado (22). O texto abaixo foi levemente adaptado para facilitar a leitura. Se preferir, veja no YouTube e acompanhe os slides.
Quando me convidaram [a palestrar na Python Brasil], fiquei muito honrado e pensando por que que me chamaram. Não foi exatamente pela minha capacidade de programar em Python. Tem seis anos que programo — eu era jornalista e fiz uma mudança de carreira.
Meu nível técnico é muito melhor do que era, mas tem algumas coisas do Python que ainda não consigo entender, como decoradores. Aquilo para mim um grande mistério. O ponto principal é eu não estou aqui para falar de questões técnicas, mas para “desanimar” vocês um pouco. Quero conversar sobre as consequências da tecnologia, porque falar das consequências da tecnologia é falar também do trabalho de vocês e como ele está impactando a sociedade.
Começo dizendo que nenhuma tecnologia é isenta, nenhuma tecnologia age no vácuo. A partir do momento que ela sai da mente humana, ela sempre é adaptada e impacta outros seres humanos. De uma maneira um pouco menos etérea, isso significa que as tecnologias, quando são introduzidas na sociedade, têm consequências que quase ninguém é capaz de antever.
Vamos dar um exemplo: esse sujeito que vocês estão vendo é o Henry Ford. Quando Ford abriu sua terceira empresa em 1903, a Ford Motors, o carro não era novidade. O grande lance é que ele introduziu algo chamado a “linha de produção”, em que você consegue produzir em escala. Quando você produz em escala, o preço cai e quando o preço cai, outras pessoas além dos ricos conseguem comprar um carro.
Se você tem mais gente com carros, isso tem um impacto na maneira como a sociedade se distribui. Antes da popularização dos carros, para se movimentar você tinha seus pés e o lombo de animais. Pensava-se em fazer cidades pequenas para que as pessoas conseguissem andar de um lado para o outro. Se você vai à Europa, por exemplo, todo o centro é uma massa concentrada de prédios e casas. Quando o carro aparece, no começo do século passado, ele tira essa necessidade de morar perto das linhas férreas — basicamente, abre-se a possibilidade de as pessoas morarem mais longe.
Quando Henry Ford criou a linha de produção, o impacto que não se esperava era a criação dos subúrbios, essa entidade norte-americana que designa bairros mais afastados que não têm absolutamente nada a não ser casas. Para qualquer coisa você precisa pegar o carro. A urbanização norte-americana pós-II Guerra Mundial, tal qual a brasileira, é muito voltada a este modelo, enquanto a urbanização na Europa, pré-II Guerra Mundial, aconteceu quando ainda não existiam carros baratos.
Na tecnologia pessoal isso não é diferente. Vimos a introdução de uma série de tecnologias que tiveram consequências esperadas, mas também outras consequências que inesperadas. As grandes empresas de tecnologia resolverem vários daqueles problemas muito chatos que a gente tinha, mas introduziram alguns problemas terríveis: tem comunidade neonazista usando o Facebook ganhar dinheiro, o caso do entregador do Rappi que morreu durante uma entrega e o Rappi meio que deu de ombros, a Amazon que teve que se desculpar porque tinha mentido que seus motoristas não precisavam urinar em garrafas porque não tinham descanso para ir ao banheiro e a Uber sugerindo, de maneira super casual, que podia financiar uma campanha de difamação contra uma jornalista. Querendo ou não, a gente vive no ambiente moldado por essas empresas. As consequências das decisões delas nas nossas vidas funcionam tanto para o bem como para o mal.
E aí, vale a pergunta: como chegamos até aqui? Se a gente vive nesse ambiente das grandes empresas de tecnologia, vamos entender isso quebrando o debate em duas partes. A primeira é a responsabilidade do Estado.

Esse sujeito se chama Evgeny Morozov e é um filósofo bielorrusso. Em 2011, ele publicou um livro chamado The net desilusion em que criticava um conceito que chamou de “cyber utopianism”: a incapacidade de ver o lado negativo e aquela crença quase religiosa de que a internet vai vir só para salvar, só trazer coisa boa para nossa vida.
Ele era uma voz dissonante. Vamos relembrar: em 2011 estávamos vendo a ascensão dos monopólios de hoje. Essa ascensão sempre vinha com aquele elã de importância, o discurso de que essas empresas só vão nos dar coisas muito melhores do que já temos — e ainda de graça! Por isso, Morozov tomou muita paulada e muita pedrada.
Uma das principais críticas do Morozov é sobre o papel do Estado na internet. Este é o print de uma apresentação excelente que ele fez no TED mostrando como os presidentes norte-americanos sempre gostaram de enaltecer a internet como um veículo da democracia pelo mundo. Reagan, Bill Clinton e George Bush repetiram o argumento e Morozov faz uma brincadeira “confundindo” o Bush com o John Lennon por causa dessa frase dita pelo ex-presidente em 1999:
“Imagine se a internet entrasse na China e como a liberdade se espalharia.”
Essa visão tecno-utópica defendia que, se você colocar internet em algum lugar, é questão de tempo até que governos autoritários e fascistas sejam depostos. Basicamente, bastaria instalar roteadores, colocar conexões, por celulares na mão de todo mundo e dar um tempo para que governos autoritários ruíssem. Esse seria o poder da internet. Existiam, inclusive, pessoas que defendiam que a internet acabaria com os governos, numa visão anarquista. Se você tivesse a capacidade de se articular com todo mundo usando o celular, você conseguiria (na teoria) fazer aquela mediação entre as pessoas que formam uma sociedade de uma maneira meio automática.
Nada disso deu certo. Morozov tomou muita porrada, mas ele tinha muita razão. O que a gente viu acontecer foi exatamente o contrário: os governos se adaptaram à internet.
Quero trazer três exemplos de como os governos se adaptaram para enterrar a ideia de que a internet é realmente o grande veículo da democracia no mundo.
O primeiro é a China com seu modelo de capitalismo de Estado: você fecha a polpuda economia chinesa, com seu mercado consumidor de 1,4 bilhão de pessoas, apenas para empresas locais que operam sob as rígidas regras do governo. Ao ter acesso exclusivo, sua empresa é protegida das grandes multinacionais, principalmente as norte-americanas e as europeias. Só que se você pisar fora da linha, o governo vai descer o martelo em você. A gente consegue ver isso claramente com o Alibaba no último ano: Jack Ma, o fundador, resolveu desafiar o governo num monte de coisa e recebeu sua punição. Ele sumiu durante um tempo, a empresa dele tomou uma série de sanções e, ainda que continue sendo uma das maiores de comércio eletrônico do mundo, existem novas dificuldades impostas pelo próprio governo, o famoso “fogo amigo”.
O segundo modelo é os Estados Unidos. Depois do 11 de setembro, o governo norte-americano aprovou uma base regulatória apoiada pelos dois partidos que levou à formação do monitoramento dentro da NSA. A gente só sabe disso por causa do Edward Snowden. Além de pegar os dados diretamente dos servidores das grandes empresas tecnologia, a NSA trabalha ativamente para enfraquecer protocolos de criptografia. Ótimo para o controle, péssimo para o cidadão e sua privacidade.
O último modelo é o russo. A Rússia também tem o seu capitalismo de Estado e os controles de monitoramento digital de cidadão, mas o que se destaca, principalmente na última década, são as operações a partir de Moscou que aproveitam o descaso das redes sociais para interferir em democracias alheias usando campanhas coordenadas. Já existem evidências de que houve intromissão de forças russas no Facebook durante as eleições que levaram Donald Trump à Casa Branca.
Então, aquela ideia de que a internet seria o veículo da democracia implode. Cada um do seu jeito, governos pelo mundo entenderam como utilizar as redes em benefício próprio.
A gente falou do Estado. Hora de falar da iniciativa privada. Ela entendeu que se consegue fazer muito dinheiro coletando os dados das pessoas e mediando interações online. Para explicar melhor, quero voltar 15, 16 anos no passado para um fenômeno chamado Web 2.0.
Naquela época, um pesquisador chamado Tim O’Reilly, dono da editora O’Reilly, deu o nome de Web 2.0 para essa nova onda de serviços onde a gente publicava nossos dados pessoais. Em vez de ser uma coisa mais reativa, formada por sites estáticos, a Web 2.0 te dava a capacidade de publicar seus próprios conteúdos. Na época, bombaram serviços como Delicious (para guardar links), Foursquare (para marcar onde você estava), Blogger (para criar blogs), Flickr (para publicar fotos) e dois outros que viraram os principais serviços da Web 2.0: Facebook e YouTube.
Quando os serviços deram certo, as empresas por trás deles perceberam que, para ganhar dinheiro, teriam que apelar para um modelo de negócios bastante antigo: a publicidade.
Publicidade não é uma coisa nova. Na verdade, ela nasce no século XIX, quando um sujeito chamado Benjamin Day lançou um jornal em Nova York que custava ⅙ dos rivais. Com pautas focadas em notícias cotidianas e crimes, o The Sun era o primeiro jornal voltado às massas. Para fechar a conta no fim do mês, Benjamin percebeu que conseguiria ir aos negócios do bairro — a vendinha, o açougue e o mercadinho — e falar: “Olha, eu tenho uma circulação que é enorme e eu consigo colocar aqui um anúncio seu se pagar uma grana.” Assim, em 1833 nasceu o modelo de negócios que a big tech usaria mais de um século depois e cujas consequências estamos sofrendo. Essa história está muito bem contada num livro chamado Impérios da comunicação, do Tim Wu.
Como funciona publicidade? Quanto mais dados você tem do público, mais preciso você consegue ser na sua campanha. Com a mídia analógica, como o jornal do Benjamin, você não é capaz de fazer uma grande segmentação: vai o mesmo anúncio para todo mundo. Mas a partir do momento que você coleta um monte de dados das redes sociais, é possível oferecer recortes demográficos que são muito específicos. Quer atingir gente que tem interesse em Python, está em Manaus e passou pelo Centro de Convenções? Você não conseguia fazer isso na TV, mas aqui, no Facebook e YouTube, consegue.
Os anunciantes gostaram e as plataformas entenderam que seria vantajoso ter cada vez mais dados sobre os usuários para oferecer aos anunciantes recortes cada vez mais específicos. Aí nasce o capitalismo de vigilância, explicado em outro livro excelente da Shoshana Zuboff, professora aposentada da Harvard Business School.
No capitalismo de vigilância, a gente como sociedade troca nossa privacidade por conveniências. Como privacidade é um conceito muito etéreo é difícil você definir o que é e convencer os outros que vale a pena mantê-la. Quando você vai comprar uma garrafa d’água, você dá o dinheiro, pega a garrafa e leva para casa. No digital, a gente ganha em curto prazo serviços gratuitos, mas as consequências para a sociedade são piores e mais lentamente percebidas, como as campanhas de enfraquecimento da democracia.
E quando esse movimento de trocar privacidade por serviços gratuitos se direciona para consequências terríveis? Essas quatro fotos deixam muito claro esses momentos: quando a big tech abre seu capital na bolsa. A gente tem o Facebook em cima, o Google do lado, o Twitter embaixo e a Amazon embaixo.

Quando você abre o capital, qualquer pessoa pode comprar ações da sua empresa. Isso quer dizer eles viraram sócios e você passa a ser obrigado a contar a ele o que está fazendo. Quando você é uma empresa de capital fechado, você pode tomar as decisões que quiser e colocar como prioridade, por exemplo, a sociedade. Só que quando você abre o capital, isso não existe mais. O mais importante é o acionista e acionista só gosta de empresa no qual o lucro está crescendo sempre. Para crescer o lucro sempre, empresas de capital aberto podem adotar de vez quando medidas que são benéficas para si mesmas, mas não necessariamente para a sociedade.
Após um IPO, o foco potencialmente sai de seis bilhões de pessoas e se vira para acionistas, um grupo formado majoritariamente por milhares de homens brancos na Califórnia. É fácil hoje a gente fazer vista grossa a esses excessos e crimes das empresas que levam ao enfraquecimento da democracia e ao negacionismo científico quando a gente tem serviços gratuitos que resolvem problemas antigos. A big tech nasce para permitir que olhemos fotos de amigos do colégio e paguemos R$ 9 para recebermos um hambúrguer em casa, como mostra o cachorro do meme, mas há uma enormidade de consequências terríveis, personificadas pelo lobisomem, como aumento de movimentos neonazistas, campanha anticiência, concentração de renda, precarização do trabalho, eleição de autocrata e injeção anal de ozônio contra COVID-19.
Como a gente deixou chegar até nisso? Simples: antes dessas empresas, a vida era mais difícil. Pegar táxi na chuva, usar mapa, ouvir música no Walkman, usar lista telefônica, achar parceiro(a) no Loveline. A vida é mais fácil com os serviços da big tech.
Para ajudar essa aceitação pela sociedade, uma série de empresas adotou políticas que dão prejuízo, mas que aumentam a boa vontade da sociedade. A Uber é especialista nisso. Quando teve problemas de regulamentação com vereadores, deputados e senadores assim que chegou ao Brasil, a Uber levava sorvete de graça para você. Nos Estados Unidos, além de picolé, a empresa levava cachorrinhos para o usuário que estava estressado. Essas campanhas impactam a lucratividade das empresas, mas fortalecem uma percepção positiva na sociedade. Com essa percepção positiva da sociedade, é muito mais difícil questionar todos esses problemas que levantamos até aqui.
Cristaliza-se aí aquela certeza quase religiosa de que a tecnologia só pode fazer o bem, criticada pelo Morozov desde 2011. Você pode fazer um exercício: pergunte a seus amigos e familiares se essas empresas de tecnologia são boas ou não para a sociedade. A resposta não vai surpreender ninguém. Nasce a Igreja do Startupeiro dos Últimos Dias. Enaltecidos e adorados, os deuses dessa igreja são os fundadores, pessoas que já demonstraram em alguns episódios de vida terem réguas morais e éticas baixíssimas e que, convencidos que são onipotentes, se convenceram que podem resolver qualquer problema do mundo. O melhor exemplo disso é Elon Musk. O que ele fez com SpaceX e Tesla é realmente admirável, mas até aí você achar que entende o suficiente e pode mediar os conflitos, como a guerra entre Rússia e Ucrânia, são outros quinhentos.
A adoração abre caminho para a formação do cenário atual do big tech, em que cada gigante tem mais ou menos seu monopólio e usa formas sujas de se preservar, inclusive dificultando a entrada de outros rivais. São atitudes ótimas para acionistas, mas péssimas para a sociedade. Não à toa, o nível de concentração de mercado que atingimos agora é a maior em 40 anos — o índice S&P 500, que mostra quais são as maiores empresas dos Estados Unidos, está próximo a 40% com tendência de subida. O que é ainda mais preocupante é que outros mercados que estão perdendo espaço na última década, como serviços financeiros e saúde, estão sendo corroídos pela tecnologia, pelos mesmos players que já lideram.
A gente não deve esperar em curto prazo que isso se resolva magicamente, já que a big tech segue a atuar com uma espécie de carta branca. A maneira como o Facebook desossou o Snapchat copiando a função Stories e atingindo um público maior que a fonte da cópia em poucos dias deveria ter acendido todas as luzes de regulamentação dos Estados Unidos. O Facebook ficou durante um tempo querendo comprar o Snapchat e o Snapchat falou: “Meu amigo, vai passear”. Zuckerberg simplesmente copiou a função e destronou o Snapchat, que está bem agora, mas demorou para se recuperar.
O que nos leva a um outro ponto importante sobre o poder que a big tech tem, muito característico da maneira como a internet se organiza.
Talvez vocês escutem com certa frequência que é mas é fácil na internet criar um novo Google ou Amazon para competir com o Google e a Amazon originais. É uma das piores falas que se repetem na tecnologia por duas razões. A primeira é que a nova Amazon não vai bater de frente com o Walmart, como a Amazon original, mas com a própria Amazon. Então, boa sorte com isso. O segundo ponto é que você vai precisar de mais sorte ainda: as empresas de tecnologia cresceram tanto que passaram a controlar uma parte da infraestrutura da internet. O site The Verge fez uma reportagem excelente em que uma jornalista tentava usar a internet por uma semana sem ter nada do Google, da Amazon e do Facebook. As três empresas estão tão entranhadas na infraestrutura da internet como um todo que, se você bloquear, não consegue usar serviços muito populares que estão na AWS, no Azure ou no GCP. Aliás, se você quiser montar uma nova Amazon, é muito provável que tenha que usar a infraestrutura da Amazon, da Microsoft ou do Google se quiser ter escala e uma série de benefícios.
E daí a gente volta para o coração do problema: a publicidade. A big tech, principalmente Google e Meta (Facebook), está dominando o bolo publicitário. Mas, como acionista só gosta de resultado que está crescendo, é preciso fazer algo para mantê-lo para cima. Para Meta, Google e YouTube, quanto mais tempo você ficar com a cara colada no celular, mais a plataforma ganha pelo volume de anúncios exibidos. Se já não resta tanta gente fora da internet, a solução é encontrar formas de as pessoas ficarem mais tempo no seu serviço. Tal qual a publicidade, a solução já existia e é antiga: cassinos.
A big tech passou a contratar uma galera que já tinha trabalhado com máquinas de slots para encher divisões focadas no que a Luciana Gimenez chamaria de “behaviorismo”. O behaviorismo parte da premissa de que o comportamento humano é melhor entendido e função de incentivos e recompensas. Por meio de milhões de testes A/B, as plataformas vão entendendo quais são os algoritmos, os botões, as animações, a escolha de conteúdo que mais te mantém entretido e vão replicando essas alterações para todos. Basicamente, somos ratinhos presos dentro de uma jaula ganhando comidinha quando fazemos algo “correto” — aquela dose de dopamina funciona como os pedaços de carne.
Outra forma de você manter as pessoas coladas ao celular é apostar em conteúdos divisivos, que provocam uma reação primal, seja ela asco, raiva ou a vontade de arrancar os próprios cabelos. Professor da Universidade de Nova York, o Jay Van Bavel conduziu um estudo e percebeu que quando você usa palavras mais agressivas para se comunicar, a chance de você ter um engajamento é 40% maior. Se você fala que gosta de pudim, o post vai ter duas curtidas. Se você fala que pudim não apenas é a melhor comida do mundo, mas que quem não gosta deve ir pro inferno, é provável que você tenha mais curtidas. Quem gosta vai se identificar e os instintos de tribalismo se manifestarão, enquanto quem não gosta vai antagonizar e responder do mesmo jeito. Reação primal.
Não à toa existem dois políticos recentes que não são exatamente conhecidos pelo comedimento e pelas frases científicas. Mais que isso: é pelas redes sociais premiarem a hipérbole que estamos vendo a ascensão de uma série de influenciadores que falam os piores absurdos e continuam nessas redes para fazer todo mundo arrancar os cabelos de raiva.
Pouco a pouco, raiva por raiva, normalização de absurdo por normalização de absurdo, vamos nos afastando da civilidade.
Esse modelo da publicidade movida pelo cassino dentro do nosso bolso, da comunicação voltada à explosividade, da relação rompida pelos temas e abordagens divisivas faz com que a gente abandone um pouco a civilização e comece a se encaminhar à barbárie.
E o que a plataforma fazem para combater isso? Nada. Na verdade, parece existir até incentivos. Ao buscar manter os usuários por mais tempo na plataforma, Facebook e YouTube passaram a recomendar conteúdos sobre terra plana, anti-vacina, milícias digitais e afins.
Reportagem do jornal Los Angeles Times em 2020 mostrou que o Facebook fez um estudo dos anos antes e concluiu que em 66% das vezes que um usuário entrou em grupo extremista foram por recomendação do próprio Facebook. Não é que a pessoa entrou na plataforma e foi procurar um grupo de neonazismo: o Facebook levou ela até lá. É inacreditável que isso tenha acontecido porque o Facebook diretamente ajuda a vitaminar esses movimentos. O Facebook funciona como uma espécie de RH de neonazistas.
Uma série de outros movimentos criminosos floresceram dentro dessas plataformas porque as próprias plataformas não estão nem aí. Uma informação que sempre me deixa com raiva é a seguinte: a Klu Klux Klan (KKK) é um movimento terrorista que há mais de um século espanca, mata e pendura os corpos de negros em árvores. Durante 14 anos, as plataformas digitais acharam que era ok dar espaço para um filho da puta, o principal líder da KKK. Durante mais de uma década, YouTube, Facebook e Instagram permitiram que ele usasse a maior máquina de comunicação da história da humanidade para espalhar sua ideologia criminosa.
Mas calma: é ainda pior. Tudo isso acontece com as próprias plataformas sabendo das consequências e dando de ombros. A notícia mais importante de 2021 em tecnologia foi essa mulher, Frances Haugen, ex-funcionária do Facebook, ter vazado um monte de dados provando que o Facebook sabe de tudo isso e, ainda assim, cagou. Por trás das campanhas de relações públicas que tentavam tirar a responsabilidade, elas mesmas sabiam que seus produtos tinham e continuam a ter consequências terríveis para a sociedade.

O Facebook sabe que meninas que usam demais o Instagram relatam problemas de autoestima. Um estudo interno com adolescentes dos Estados Unidos e no Reino Unido descobriu que mais de 40% dos usuários do Instagram com um sentimento de não serem atraentes o suficiente disseram que esse sentimento começou dentro do Instagram.
Toda rede social pede atenção, mas já falei: o Instagram é a pior de todas. Se você tem filhos, filhas ou irmãs no Instagram, saiba que o que o aplicativo faz com a autoimagem de jovens é terrível. É sempre bom lembrar que correlação não é sinônimo de causalidade, então vamos ter cuidado ao analisar o gráfico acima. Na última década há um notável aumento nos suicídios de jovens nos Estados Unidos, principalmente entre as meninas. Historicamente, a taxa de suicídio entre homens é sempre maior do que entre mulheres, mas a de mulheres cresce mais. Não dá para cravar que a rede social está fazendo isso sozinha, mas a gente também não consegue ignorar que as redes sociais são uma parte considerável nesse caldo de miséria, que existe um efeito delas nos resultados.

Este outro gráfico mostra as admissões em hospitais para automutilação não fatal. Notem a linha azul claro, de meninas entre 10 a 14 anos. De novo, não dá para ignorar que as redes sociais desempenham um papel. O quanto? Mais estudos sérios serão necessários para cravar.

Finalmente, vamos esclarecer alguns pontos. Ninguém aqui é ludista. Você deve se lembrar da escola: quando começou a Revolução Industrial, houve um movimento chamado ludismo em que uns sujeitos, tal qual o vovô Simpsons gritando para nuvem, achava que acabaria com a maquinização se entrasse nas fábricas e destruísse os equipamentos. O líder era chamado Ned Ludd, logo o movimento se chamou ludismo. Resolveu algo? Nada: os caras foram presos, as máquinas foram substituídas e a gente taím com os frutos da Revolução Industrial até hoje, há mais de um século.
Ninguém aqui está falando que a tecnologia é ruim e que a gente deveria voltar à época do táxi na chuva, do mapa de papel, do Walkman e da Loveline. A nossa vida é muito melhor com a tecnologia. É inegável. Só que existem problemas seríssimos para a sociedade decorrentes da falta de regulamentação. Por causa daquela boa vontade da sociedade, as empresas de tecnologia conseguiram uma carta branca para fazer o que quiseram sem muita resistência. Agora a gente já começou a ver uma quantidade gigantesca de indícios dos problemas sérios que a big tech introduziu na sociedade a resolver alguns antigos.
Qual é a solução? Regulamentação. Como? Existe gente que sabe mais e ganha mais do que eu para pensar e operacionalizar esses ajustes — Tim Wu, agora trabalhando no governo Biden, é um deles.
Voltemos ao começo para duas questões.

Primeiro: nenhuma tecnologia funciona tecnologia no vácuo. Ela sempre vai sair das nossas cabeças para ter impactos que a gente não espera.
Agora vem o meu cavalo de pau: quem ajuda a levar essas tecnologias para o mundo real são vocês e isso não é uma acusação. Quem toma a decisão são os chefes de cima, mas quem as executa são programadores e programadoras talentosos como vocês. Quando é o seu código que vai para produção, é bom cogitar o impacto que ele tem no mundo. Qual banquete o nosso suor banca. Quais as consequências do nosso trabalho. A vida é foda, eu sei. Todo mundo tem que pagar boleto, mas vale a pena ter no radar, ao cogitar uma possível mudança de carreira, que seus códigos não estejam suscitando consequências negativas na sociedade. Existe uma chance de que as consequências do seu trabalho sejam perversas. Porque a gente pode até achar que está trabalhando para o cachorro, mas se analisar o suficiente, você pode se descobrir trabalhando para o lobisomem.
Foto do topo: Python Brasil/Flickr.
33 episodes